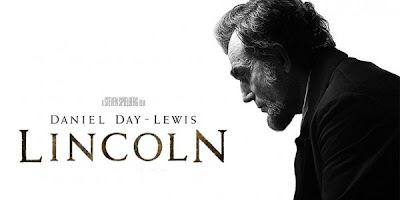Mississipi selvagem
Perdidos numa lixeira
pantanosa ao largo de um dique junto ao Rio Mississipi vivem Hushpuppy
[Quvenzahané Wallis] e Wink [Dwight Henry], o seu pai doente. Num cenário eminentemente
apocalíptico, a ideia da realização de Benh Zeitlin é a de fazer emergir
perante a miséria material e a ausência quase total de meios de sobrevivência a
riqueza do espírito humano. E para isso nada mais conveniente que o sul dos Estados
Unidos, desde sempre vítima da tirania do homem e da própria natureza, e uma
menina doce e frágil mas sem nunca perder a determinação. E é nesta busca de equilíbrio
entre a fantasia apocalíptica e a realidade dura que «Bestas do Sul Selvagem» vai arrebatando prémios em tudo o que é
festival de cinema e atingindo o âmago de espectadores à escala global.
De facto, neste
cinema a raiar o encantatório existem pormenores concepcionais que fazem
suspeitar da sua própria ingenuidade. E isso é de todo determinante tanto mais
que a ingenuidade deliciosa de Hushpuppy como elemento cerebral e emocional da
trama é o que de mais sedutor possui o filme. Não que o seu realismo mágico me
incomode ou mesmo a ambição visual que este ostenta. Mas num cenário que se
quis de pureza e de força humana interior o que se verifica é uma espécie de
poema oco que vive da força da banda sonora, do artificialismo visual e de uma
mensagem de esperança que não se confirma.
Apesar de tudo, «Bestas do Sul Selvagem» é cinema
agradável onde nos toca particularmente a personalidade encantadora de uma
menina que na óptica do filme tendo aparentemente tudo afinal não tem nada. Uma
menina que sofre e chora como qualquer outra menina da sua idade mas que se
recusa a desistir fazendo das fraquezas as suas forças. Não havendo, por esse
motivo, qualquer necessidade de a pôr a correr entre fogos postiços com a
música como pano de fundo. Não havia qualquer necessidade, repito, até porque
em paralelo é-me até bastante simpática a ideia reinante de que é possível
vivermos como quisermos tendo ainda assim a solidariedade da comunidade onde
estamos inseridos, mesmo que esta viva debaixo de lema igual.
E de facto não
podendo tudo, quanto mais forte for o espírito humano maior é a esperança
perante as adversidades. E no doloroso caminho percorrido pela pequena
Hushpuppy obrigada a atingir precocemente uma maturidade que não seria para a
sua idade, fica todo o meu carinho por este filme que pese a sua ambição
filosófica se mostra algo vazio de conteúdo revelando-se no entanto visualmente
potente.
«Beasts of the
Southern Wild», de Benh Zeitlin, com Quvenzahané
Wallis e Dwight Henry




.jpg)