 A Farsa
A Farsa
Antes daquilo que vá aqui dizer logo a seguir, devo confessar que me apetece muito pouco escrever uma crítica convencional sobre «Green Zone: Combate Pela Verdade». A razão é simples, é que o mais recente filme de Paul Greengrass colocou-me de novo frente a frente com todos aqueles motivos que me fizeram um cinéfilo inveterado, compulsivo ou, se preferirem, um tolinho dos filmes. E isso faz-me desejar libertar somente a alma. Ou tudo aquilo que por ela passa neste momento.
Através de uma banda sonora extraordinariamente adequada à história, de uma montagem vertiginosa que me fez ficar agarrado à cadeira da sala de cinema do primeiro ao último segundo, com este seu filme o realizador britânico Paul Greengrass não só provocou em mim um turbilhão de emoções como ainda me fez recordar que a manipulação da informação tanto pode destruir a vida de uma só pessoa como provocar uma guerra lançando milhões de seres humanos no desespero e no caos. Repito, bem lá no fundo eu tinha a certeza que gostar de cinema só poderia ser algo de muito bom e libertador. E ao sair da sala de cinema há poucas horas atrás – escrevo este texto às primeiras horas da madrugada de Domingo - só não gritei bem alto o meu júbilo por pudor. Mas não se pense que em mim só havia alegria. Havia euforia, sim, mas também raiva e desespero. E só um grande filme como «Green Zone» indubitavelmente é poderia levar-me a esta miscelânea de sensações e à quase perda de controlo sobre mim mesmo.
Todos sabemos que os aliados, com os EUA à cabeça, invadiram o Iraque sob o pretexto de que o exército iraquiano tinha na sua posse poderosas armas químicas de destruição massiva. Hoje sabemos também que nunca foram encontrados esses famosos arsenais nos desertos daquele país do médio oriente. Mas é na tentativa de encontrar esse armamento que em 2003, poucas semanas após a invasão do Iraque, o Sargento-chefe Roy Miller (Matt Damon) e a sua equipa são enviados para o Iraque. Depois de várias informações tidas como seguras se revelarem totalmente falsas, Miller não só começa a desconfiar que algo ali não bate certo como se apercebe de alguma sabotagem com vista a inviabilizar o seu trabalho. Pela história passeiam-se ainda Clark Poudstone (Greg Kinnear), um alto funcionário norte americano que se revela um facínora e um impiedoso manipulador, Martin Brown (Brendan Gleeson), um agente da CIA recto e de bons instintos, e ainda Lawrie Dayne (Amy Ryan), uma jornalista demasiado ingénua e muito influenciável por fontes que não questiona.
Como pode facilmente perceber-se, baseado no livro de Rajiv Chandrasekaran e com guião de um dos mais importantes argumentistas de Hollywood, Brian Helgeland (ele que trabalha regularmente com Clint Eastwood e escreveu o argumento para «Robin Wood», de Ridley Scott, fita ainda por estrear), o filme explora a autêntica farsa que americanos e ingleses montaram como desculpa para invadirem o Iraque e deporem Saddam Hussein. Daí que muito mais que um filme de guerra, «Green Zone» é um ‘thriller’ que tem como pano de fundo a guerra no Iraque. Uma guerra que ainda hoje, sete anos depois da invasão, se prolonga. De câmara na mão, o que ajuda à acção trepidante a que assistimos, Greengrass dirige não só uma fabulosa equipa de actores como até o espectáculo pirotécnico que idealizou resultou numa impressionante beleza estética. Se é que se pode afirmar algo do género quando olhamos uma cidade a ser destruída pelas bombas inclementes que matam tudo o que mexe em seu redor sem diferenciar culpados ou inocentes. E se há verdades que doem, esta que o filme sugere, embora não possa ser considerada uma verdade total porque faltam elementos que provem o embuste, dói exactamente por isso mesmo: dói porque dificilmente serão julgados e condenados os grandes culpados da morte de milhares e milhares de cidadãos iraquianos e muitos militares do lado dos aliados.
Termino este texto voltando ao seu princípio porque é por filmes como este «Green Zone» que ao longo dos anos me tornei um apaixonado por cinema. Isto, pese o grande objectivo de Paul Greengrass ao realizá-lo, suponho, comigo não tenha funcionado. Isto é, não senti que tenha resultado como catarse para a culpa que a humanidade deve necessariamente sentir sempre que inventa uma guerra onde morrem tantos de nós. Ainda assim, o filme valeu e de que maneira como grande momento de cinema. Um filme, aliás, que ninguém deve perder. E não sendo meu hábito fazê-lo, não resisto neste caso à óbvia comparação com «The Hurt Locker». Sendo um filme de guerra que tem igualmente como cenário o Iraque e tendo sido vencedor de uns quantos Óscares, o filme de Kathryn Bigelow não passa de uma brincadeira de meninos confrontado com «Green Zone». Denso, interventivo, vertiginoso, esteticamente irrepreensível, brilhantemente protagonizado e fundamental é assim este imperdível «Green Zone: Combate Pela Verdade».

«Green Zone», de Paul Greengrass, com Matt Damon, Brendan Gleeson, Greg Kinnear e Amy Ryan



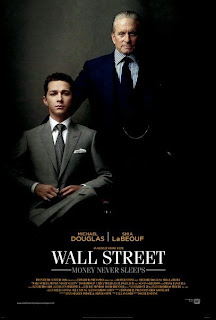




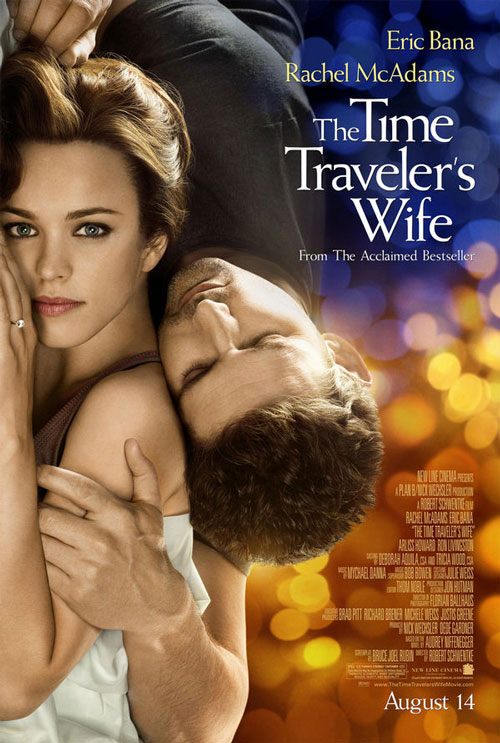




.jpg)





